RESUMO Autores de livros recentes no campo da ciência cognitiva procuram repensar o papel da razão e descrever as armadilhas que ela nos prepara. Segundo algumas novas hipóteses, a lógica é apenas um artifício retórico para persuadir, e nosso cérebro evoluiu de forma a nos convencer de que sabemos mais do que sabemos.
*
O que é o homem? Platão arriscou uma definição: bípede implume. Ela não durou muito. Logo despontou Diógenes de Sinope, mais conhecido como o Cínico, que depenou uma galinha e passou a exibi-la: "Eis um homem de Platão". Como filósofos nunca dão o braço a torcer, o pessoal da Academia acrescentou "e de unhas achatadas" à definição original.
Aristóteles teve mais sorte ao definir o homem como animal racional ("zóon lógon échon"). Embora filósofos nunca tenham deixado de apontar incoerências de nossa natureza (nem Kant achava que o homem era racional o tempo inteiro), a proposta aristotélica resistiu por mais de 2.000 anos e ganhou especial relevância com o Iluminismo.
Nas últimas décadas, no entanto, a definição começou a sofrer ataques sistemáticos. As investidas têm base empírica e vêm de dois flancos distintos.
De um lado, pesquisas no campo da etologia mostraram que vários outros animais –notadamente certas famílias de mamíferos e alguns gêneros de aves– são capazes de resolver problemas projetando o futuro e recorrendo a várias marcas distintivas daquilo que chamamos de racionalidade. Em alguns casos, verificou-se até mesmo o uso de ferramentas e a transmissão cultural.
Ainda que os superemos em quase todas essas características, fica mais complicado ter na razão o critério que separa homens de bestas.
De outro lado, investigações sobre o comportamento humano revelaram que nossa racionalidade tem mais buracos que um queijo emmenthal. Não é apenas que de vez em quando ajamos irracionalmente; na verdade, a irracionalidade está inscrita em nossa forma de pensar, é bastante previsível e, às vezes, quantificável.
Nas últimas três décadas, pesquisadores elencaram uma lista telefônica de vieses cognitivos que nos afastam do ideal de razão imaginado pelos filósofos iluministas.
| Camile Sproesser | ||
 |
||
| Pintura de Camile Sproesser para a Ilustríssima |
Quer um exemplo? Se você é petista de carteirinha, talvez veja na Operação Lava Jato uma articulação das elites para desacreditar a esquerda em geral e o PT em particular. E, quando alguém lhe mostra que um número maior de políticos de outras siglas e oriundos do campo ideológico oposto também se viu enredado nas denúncias, são grandes as chances de você minimizar a importância desse dado, descrevendo-o como manobra para salvar as aparências da Justiça, ou algo assim.
Em psicologia, essa operação mental de dar atenção às evidências que sustentam nossa teoria preferida e descartar as que a contradizem tem nome: viés de confirmação. Ubíquo nas atividades humanas, ele não é um cochilo da razão, um simples erro aleatório que de vez em quando cometemos. Trata-se, ao contrário, de um elemento constitutivo de nosso pensamento, moldado por milhares de anos de evolução biológica.
Assim, onde quer que exista um viés, existe uma vantagem adaptativa que o esculpiu em nossa mente. Nem sempre ela é óbvia, mas está lá. Portanto, uma noção mais realista de "razão" precisa incluir os vieses, ainda que eles pareçam trabalhar contra a razão.
O ENIGMA
Saíram nos últimos meses vários livros bem interessantes no campo da ciência cognitiva cujos autores procuram repensar o papel da razão e descrever as armadilhas que ela nos prepara.
A obra mais ousada é "The Enigma of Reason" [Harvard University Press, 408 págs., R$ 103,39, R$ 55,96 em e-book] (o enigma da razão), dos franceses Hugo Mercier e Dan Sperber —o original é mesmo em inglês. A dupla pretende nada menos do que propor uma nova teoria do entendimento humano.
Para Mercier e Sperber, há um duplo enigma em torno da razão. Se ela é tão útil a ponto de ter posto o homem no comando da natureza, por que não se desenvolveu na mesma escala em outros animais? E, se é tão eficaz, como explicar a abundância de vieses que nos levam a erros infantis nos raciocínios?
Para os autores, devemos deixar de pensar a razão como um superpoder cognitivo que nos foi concedido por um capricho evolucionário e encará-la mais modestamente como apenas uma das capacidades cognitivas humanas, muito bem adaptada para exercer sua verdadeira função. E qual é ela?
Aqui, precisamos prosseguir devagar. Mercier e Sperber começam por conceituar a razão como um mecanismo de gerar inferências.
Até aí, nada de muito especial. Bichos também fazem inferências o tempo todo (mesmo sem ter consciência disso). Eles usam o que já sabem para tirar conclusões sobre o que ainda não sabem. Esse tipo de operação mental lhes permite antecipar o que poderá acontecer nos próximos instantes e agir de acordo (fugir quando percebem que o predador está se aproximando, por exemplo).
Nossos amigos peludos ou emplumados não fazem isso a partir de um mecanismo geral de extrair inferências, mas por meio de diferentes tipos, cada um voltado a um problema específico: O que comer? Com quem copular? Quando fugir?
Humanos, dizem os autores de "The Enigma of Reason", são como outros animais. Não possuímos uma competência geral para inferir, mas vários mecanismos especializados. A diferença é que, enquanto os dos bichos estão calcados quase exclusivamente em instintos, os nossos, ainda que partam de uma base instintiva, são em larga medida adquiridos a partir da interação com outras pessoas.
Não existe um instinto de falar português ou inglês, mas há um que nos faz, quando bebês e crianças, prestar especial atenção aos sons de um idioma com o objetivo de aprendê-lo —ou adquiri-lo, num linguajar chomskyano. A base da linguagem é, assim, instintiva, mas seu conteúdo é fixado na interação com outros humanos.
Outra diferença importante é que, enquanto animais operam de forma automática e inconsciente, nós às vezes temos consciência parcial de que estamos fazendo inferências. Entramos aqui no terreno das intuições. Um exemplo: você intui que sua mulher anda chateada com alguma coisa, ainda que ela não o tenha dito e possa até negá-lo.
DOIS PARADIGMAS
Intuições aparecem prontas ante nossa consciência, mas sentimos que são conclusões que se formaram dentro de nossas mentes, ainda que de forma opaca. Mercier e Sperber afirmam que elas são como um iceberg mental: vemos a pontinha, mas há uma grande massa de processos abaixo da consciência que não conseguimos enxergar.
| Rápido e Devagar |
| Daniel Kahneman |
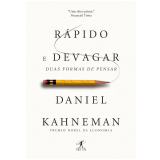 |
| Comprar |
A dupla contesta abertamente o que vem se firmando como um novo paradigma da psicologia, que é o contraste entre intuição e razão, postulado por autores do calibre de Paul Slovic e Daniel Kahneman. Segundo essa corrente, temos por assim dizer dois modos de pensar: um eminentemente intuitivo, que é rápido e se ampara em instintos e emoções, e outro racional, que é lento e calcado na lógica.
Daí vem o título do best-seller de Kahneman, "Rápido e Devagar" (Objetiva).
Mercier e Sperber sustentam que a razão é, como no "rápido" de Kahneman, uma máquina de gerar intuições, mas intuições sobre um tipo específico de representação: as próprias razões, em especial aquelas que nos levam a agir.
No contexto hipersocial em que evoluímos, usamos essas intuições a fim de produzir razões (argumentos) para justificar nossos pensamentos e atitudes em relação aos outros, os quais tentamos o tempo todo persuadir a agir como nós mesmos. Nesse quadro, a própria lógica se torna mais um artifício retórico usado para convencer do que um superpoder intelectual.
No modelo de Mercier e Sperber, alguns dos vieses cognitivos não precisam mais ser vistos como uma falha catastrófica, mas como uma característica desejável. O melhor exemplo é justamente o viés de confirmação. Se a razão foi selecionada para nos fazer justificar nossas atitudes e para vencer debates, então faz sentido que busquemos apenas provas em favor de nossas teses, e não contra elas.
Adotada a lógica da produção de argumentos, o que era antes visto como um erro se torna um dos pontos fortes da teoria. Nenhum etologista jamais encontrou algo parecido com o viés de confirmação entre animais.
Não resisto a citar a frase de Robert Wright em "O Animal Moral" (Campus) sobre nossa parcialidade: "O cérebro é como um bom advogado: dado um conjunto de interesses a defender, ele se põe a convencer o mundo de sua correção lógica e moral, independentemente de ter qualquer uma das duas. Como um advogado, o cérebro humano quer vitória, não verdade; e, como um advogado, ele é muitas vezes mais admirável por sua habilidade do que por sua virtude".
A VERDADE
Isso significa que devemos renunciar definitivamente a encontrar a verdade? Talvez não. O fato de estarmos sempre querendo convencer nós mesmos e o planeta de que estamos certos não significa que tenhamos sucesso em todas as tentativas. Nós, afinal, não tomamos qualquer desculpa esfarrapada como argumento válido.
E somos bons em avaliar argumentos? Se o contexto não trabalhar contra, até que não nos saímos mal. Examinemos um problema utilizado pela dupla francesa num experimento psicológico.
Paul está a fim de Linda, e Linda está a fim de John. Paul é casado, mas John não é. Há alguém casado a fim de alguém que não o é?
Existem três respostas possíveis: "sim", "não" e "não dá para determinar". Qual é o seu palpite?
Por razões que não cabe discutir aqui, a maior parte dos voluntários americanos e chineses disse "não dá para determinar". Aparentemente, chegaram a essa conclusão por não lhes ter sido dado o estado civil de Linda. Mas será necessário ter essa informação para chegar a uma resposta menos tucana?
Se Linda for casada, ela está a fim de John, que não é. Isso nos deixa com uma resposta "sim". Se ela não é casada, temos Paul, que é casado, a fim de uma pessoa não casada (Linda), o que nos leva mais uma vez a um "sim". Ou seja, em qualquer hipótese, a resposta é "sim".
Após a explicação, mais da metade dos voluntários que haviam optado pelo "não dá para determinar" mudou de ideia e aceitou "a verdade". E isso ocorreu de forma robusta, com a aceitação do argumento verdadeiro mesmo quando os pesquisadores, de forma traiçoeira (nenhum experimento psicológico é digno desse nome se não envolver alguma manipulação), diziam que o esclarecimento havia sido proposto por um idiota ou por alguém que ganharia dinheiro se os induzisse a erro.
A tese de Mercier e Sperber é que somos melhores ao julgar as razões dos outros do que ao criar as nossas próprias justificativas. E essa é uma excelente notícia. Tal característica permite que, na interação com as razões dos outros, acabemos descartando raciocínios ruins e guardando os melhores. Como empreitadas coletivas, a cultura e a ciência funcionam e até podem nos levar a "verdades".
ILUSÃO
A ideia de que a ciência é um saber coletivo é a tese central de "The Knowledge Illusion" [Pan Macmillan, 320 págs., R$ 74,90, R$ 51,52 em e-book] (a ilusão do conhecimento), dos cientistas cognitivos Steven Sloman e Philip Fernbach.
Se eles fossem obrigados a produzir uma definição para o ser humano, provavelmente diriam que somos animais presunçosos. Ignoramos o básico sobre coisas simples que utilizamos o tempo todo, mas temos a nítida sensação de que somos experts nesses objetos.
O exemplo destacado pela dupla é quase escatológico: a descarga do banheiro. A maioria de nós é incapaz de explicar o processo de despacho de dejetos. No modelo hoje mais usado (e mais higiênico também), o que move a bozerra é o efeito sifão. Trata-se de física ginasiana, mas isso não nos torna mais aptos a explicar o milagre.
Obviamente, o problema não se limita a descargas. Nossa ignorância já foi mensurada em relação a vários objetos cotidianos, como zíperes, velocímetros, teclas de piano, máquinas de costura. Melhor nem citar itens que envolvem física de colegial, como fornos de micro-ondas ou bombas atômicas.
Quando questionadas sobre o funcionamento das coisas, as pessoas invariavelmente superestimam seu conhecimento –e se dão conta de sua ignorância somente quando instadas a descrever em detalhes os processos envolvidos.
Sloman e Fernbach sustentam que não estamos mentalmente equipados para guardar os detalhes de objetos nem de situações particulares.
| Camile Sproesser | ||
 |
||
| Pintura de Camile Sproesser para a Ilustríssima |
O escritor argentino Jorge Luis Borges concebeu um personagem dotado de memória perfeita. Funes, o Memorioso, era capaz de reconstruir cada um de seus dias, atividade que evitava porque consumia muito tempo. Lembrar todos os eventos de um dia levava exatamente um dia.
Até recentemente, contam os autores de "The Knowledge Illusion", imaginava-se que Funes estava restrito ao mundo da fantasia. Mas, em 2006, pesquisadores da Universidade da Califórnia publicaram o relato do caso de uma paciente, AJ, que exibia habilidades próximas às do personagem de Borges.
"Posso pegar uma data entre 1974 e hoje e dizer em que dia caiu, o que eu fazia naquele dia e se algo de grande importância ocorreu (...) Sempre que eu vejo uma data aparecer na televisão (ou em qualquer outro lugar), eu automaticamente volto àquele dia e lembro onde eu estava, o que fazia etc.", explicou AJ aos cientistas.
Trata-se de uma síndrome que leva o nome de hipertimesia. Ela é bastante rara. Poucas dezenas de pessoas no mundo já receberam esse diagnóstico, mas o simples fato de elas existirem prova que, se não temos memória perfeita, não é devido a limites impostos pela bioengenharia. Conseguir mais memória, como sabe o pessoal que trabalha no desenvolvimento de computadores, é o problema fácil.
Para Sloman e Fernbach, o cérebro foi projetado para arquivar as grandes regularidades do mundo, deixando de lado os detalhes. Isso não ocorre para o corpo economizar recursos, mas porque operar de forma minimalista nos ajuda a fazer generalizações e, assim, ampliar nossa capacidade de resolver problemas novos.
Como ensinou Borges, a memória perfeita de Funes matava sua capacidade de abstração e até mesmo de compreensão: "Este [Funes], não o esqueçamos, era quase incapaz de ter ideias gerais (...) Custava-lhe compreender que o símbolo genérico 'cachorro' abarcasse tantos indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversas formas". Também AJ descreve sua memória muito mais como um fardo do que como um dom.
AÇÃO
Ok, agora temos uma boa hipótese para o fato de não estarmos equipados com uma estrutura mental que nos permita conhecer em detalhe todos os objetos com os quais lidamos, mas isso ainda não explica por que temos a ilusão de que sabemos muito mais do que sabemos. Por que vivemos essa mentira?
A resposta curta é: para poder agir. Se fôssemos proceder a uma avaliação realista e completa antes de executar qualquer ação, nós nos perderíamos em dúvidas hamletianas e nunca faríamos nada. Pior até, mergulharíamos num poço de dissonâncias cognitivas que são tortura para o cérebro.
A solução encontrada pela evolução foi a mais simples possível: pare de fazer perguntas, considere que você já sabe tudo o que é necessário saber e aja. Se seus instintos estiverem bem calibrados, suas chances de sobreviver serão maiores do que as de morrer e você conseguirá passar seus genes sabichões para a posteridade.
Com isso, voltamos a um paradoxo que é nosso velho conhecido: se somos tão rasos (mesmo que pensemos que não somos), como conseguimos enviar o homem à Lua, criar instituições políticas razoavelmente funcionais (em alguns países, pelo menos) e produzir latrinas que funcionam?
De novo, a resposta está na ação coletiva. Como dizem Sloman e Fernbach, "nossos crânios podem delimitar a fronteira de nossos cérebros, mas não a de nosso conhecimento. A mente se estende para além do cérebro, para incluir o corpo, o ambiente e outras pessoas".
Nós vivemos numa comunidade de conhecimento. Como coletividade, conseguimos armazenar uma quantidade impressionante de conhecimentos, que depositamos em livros, grupos de especialistas e nos próprios objetos –você não precisa saber física para acionar a descarga. Melhor, sua vida poderá ser salva por antibióticos mesmo que você não acredite em micróbios.
ESPECIALISTAS
Kahneman, no já mencionado "Rápido e Devagar", descreve o interessantíssimo debate entre o também já mencionado Paul Slovic, psicólogo especializado em percepção do risco, e Cass Sunstein, jurista convertido em economista comportamental.
Slovic não confia muito em especialistas. Diz que eles padecem dos mesmos vieses dos leigos, mas têm uma capacidade infinitamente maior de enrolar as pessoas.
Para ele, a própria noção de risco objetivo nada tem objetivo. O perigo associado à poluição, por exemplo, deve ser expresso em mortes por milhão de habitantes ou em mortes por milhão de dólares produzidos? A reação do público a cada uma dessas informações é bastante diferente.
Segundo Slovic, não existe resposta certa aqui, e o senso comum acaba sendo um juiz até mais competente do que os experts.
Sunstein adota posição pró-ciência. Para ele, apenas reagir com o cérebro emocional às notícias de jornal leva a resultados no mais das vezes negativos. Um exemplo: o excesso de mortes em acidentes automobilísticos entre americanos que trocaram o avião pelo carro por medo de ataques terroristas (2.300 óbitos, segundo exercício estatístico de Garrick Blalock) não fica tão distante do de mortes contadas no 11 de Setembro (2.996).
Nessa polêmica, Sunstein acaba de ganhar um aliado. Trata-se de Thomas Nichols, autor de "The Death of Expertise" [Oxford University Press, 272 págs., R$ 72,03, R$ 46,89 em e-book] (a morte da expertise). O sovietólogo, professor do Naval War College e de Harvard, denuncia uma tendência anti-intelectualista que vem surgindo nos EUA –e no restante do mundo– e se insurge contra ela.
Para Nichols, vivemos tempos paradoxais. O conhecimento nunca foi tão fácil. A quantidade de informações reunidas na internet e à disposição de qualquer um que tenha um computador não tem precedentes na história da humanidade. Isso, ao lado da proporção cada vez maior de pessoas que passaram por um curso superior, trouxe inequívocos ganhos sociais.
Não obstante, afirma o autor de "The Death of Expertise", nós nos vemos em meio a uma onda antirracionalista que ameaça destruir o conhecimento especializado e, com ele, a própria democracia.
Os Estados Unidos devem intervir militarmente na Ucrânia? Apesar das consequências potencialmente catastróficas de uma aventura como essa, uma parcela dos americanos acha que sim. E quem são esses espíritos belicosos? Demonstraram maior apoio à intervenção justamente os cidadãos que mais erraram ao localizar a Ucrânia num mapa-múndi.
TEMPOS PERIGOSOS
"Posto de outro modo, pessoas que pensavam que a Ucrânia se localizava na América Latina ou na Austrália eram as mais entusiásticas em relação ao uso da força pelos Estados Unidos. São tempos perigosos. Nunca tantos tiveram acesso a tanto conhecimento e se mostraram tão resistentes a aprender alguma coisa", escreve Nichols, que dedica o restante do livro a mostrar os vários modos pelos quais uma combinação de narcisismo arrogante com ideias igualitárias meio fora de lugar está minando o lugar do saber especializado.
Não faltam exemplos disso: movimentos "culturais" se insurgem contra a vacinação de crianças e a pasteurização do leite; um presidente africano acha que a Aids não pode ser provocada por um vírus e atrasa em vários anos programas que poderiam ter salvado milhares de vidas em seu país.
O resultado, sustenta o autor, é um certo desprezo não só pelo especialista como também pela educação, o que vem enfraquecendo as bases da democracia representativa. Em vez de um público informado pronto a dialogar e forjar soluções políticas para os problemas, encontramos um mundo de pós-verdades no qual tribos histéricas estão prontas a se digladiar umas com as outras ao primeiro sinal de desconforto emocional.
Nichols levanta hipóteses interessantes para explicar os mecanismos que estão operando para promover essa rejeição da ciência. Sobra para todo mundo. Levam cacetadas a internet, as universidades, a imprensa e, é claro, os próprios especialistas.
É possível e até provável que Nichols pinte sua tese central com tintas excessivamente dramáticas, mas acho que ele esbarrou num fenômeno real, crescente e que merece nossa atenção.
Afinal, se há algo que o fervilhante ramo da ciência cognitiva mostra é que o saber é uma empreitada coletiva que, mesmo desprezada, tem resultados impactantes em nossas vidas.
HÉLIO SCHWARTSMAN, 52, bacharel em filosofia, é colunista da Folha e autor de "Pensando Bem..." (Editora Contexto).
CAMILE SPROESSER, 32, é artista plástica.
