"O rock 'n' roll está quase morto", me diz Carrie Brownstein, sentada sobre as pernas cruzadas no sofá de seu quarto de hotel. É esquisito ouvir isso de alguém que para você é uma prova viva de que o rock ainda está aí - Brownstein é uma das fundadoras da banda de rock Sleater-Kinney, e amplamente considerada uma das maiores guitarristas do nosso tempo. Mas Brownstein, de 41 anos, prefere falar sobre Drake. Ou Kendrick Lamar. Ou Young Thug.
"Eu ouço muito hip-hop. Provavelmente é o que eu mais escuto", explica Brownstein por cima do som de sirenes que vem da rua abaixo. Está chovendo em Manhattan, e estamos a uns dez andares acima do chão. "O hip-hop não tenta se manter isolado ou acima das coisas. Ele vai se entrelaçando." Ela olha para a Madison Avenue pela janela. "A impressão é de que é integrado com um ritmo, e digo isso em termos da velocidade das nossas vidas. Uma coisa e outra se harmonizam de modo perfeito."
Estamos aqui para conversar sobre sua autobiografia, "Hunger Makes Me a Modern Girl" (lançada em 27 de outubro nos Estados Unidos, ainda sem previsão de lançamento no Brasil), mas a mudança de rumo em nossa conversa me parece espantosamente apropriada: é claro que Carrie Brownstein adora hip-hop.
"Uma coisa que eu acho muito tediosa no rock'n'roll é que, na imagem de um homem branco segurando uma guitarra, há algo que tem que ser levado a sério, porque todo mundo pensa: 'bom, vai ser assim para sempre, né?' Mas vai saber? O que é para sempre? Essa é uma ideia tão arrogante, de que você entra automaticamente para o cânone porque está emulando uma tradição antiga. Sinto que o que eu gosto no hip-hop é que ele tem que ser visto nos termos do agora. E é assim que tudo deveria ser. Existe outra coisa que não seja o agora?"
No início dos anos 90, Carrie Brownstein e a companheira do Sleater-Kinney Corin Tucker adotaram uma abordagem claramente conversacional, quase parecida com o rap, na hora de escrever músicas, abordagem que salientou a banda com pressões sociopolíticas. Não só isso como também o modo como Brownstein e Tucker gritavam uma com a outra em versos ensandecidos, e as guitarras cujos sons se entrecruzavam, refletiam o caos das questões que se tornavam inflamadas na música punk da época: feminismo radical, identidades de gênero e agressão sexual.
No palco e fora dele, a reiterada recusa do Sleater-Kinney em ser rotulado como "banda feminina" contribuiu para destroçar os padrões tradicionais das mulheres no rock, ao falar diretamente desde uma perspectiva interna à questão, ou, como diz Brownstein sobre o hip-hop, "de dentro da confusão".
"Para mim, é o tipo de música mais empolgante - há a presença de um senso de humor, é uma música que aborda tópicos, é relevante." Entre se derramar sobre To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar, e falar sobre sua adoração por Drake (de "o disco do Kendrick é incrível!" a "'Hotline Bling' é boa demais, né?"), o rosto dela se ilumina e ela sai correndo pelo quarto para pegar a bolsa. "Péra. Tenho que te mostrar um negócio."
"Você gosta do Miguel? Eu amo o Miguel de paixão." Depois de vasculhar a bolsa, ela encontra o iPhone e se ruboriza violentamente. "Ele não é hip-hop de verdade, mas olha só isso." Eu me aproximo para olhar enquanto ela vai rolando seus vídeos. "Isso aqui é a prova de como sou uma fã insana."
| Reprodução/Vice | ||
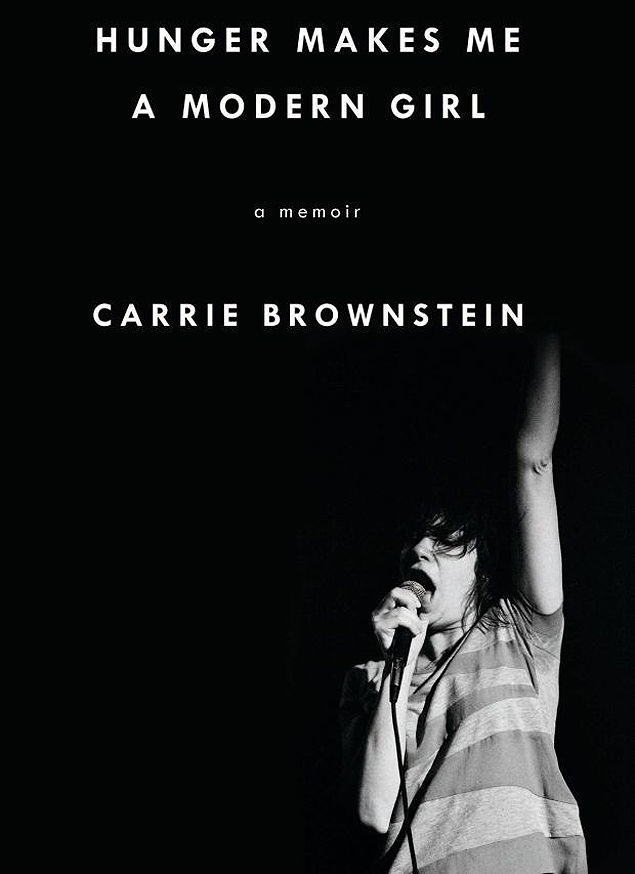 |
||
| 'Hunger Makes Me a Modern Girl', de Carrie Brownstein |
Ver alguém tão famosa e influente quanto Carrie Brownstein pirar com uma mensagem de aniversário em vídeo de um pop star como Miguel é um exemplo de porque seu livro de memórias é tão fascinante: mesmo no auge do Sleater-Kinney, quando as pessoas tatuavam nos braços o autógrafo de Brownstein, ela continuou sendo incapaz de se distanciar inteiramente da superfã suburbana cuja vida mudou radicalmente depois que descobriu o Bikini Kill, em 1991. Mesmo agora, sendo uma rockstar consagrada, ela parece se sentir mais à vontade sendo fan girl de Miguel do que falando sobre si mesma.
No livro, ela relembra a transição de aspirante desesperada a "riot grrrl" à subida ao palco com sua própria banda de uma maneira que só as pessoas que já se dedicaram de todo coração a uma cena musical podem entender. Quando ela confessa ter escrito cartinhas de fã constrangedoramente efusivas para a guitarrista do 7 Year Bitch, incluindo detalhes excruciantes, mencionando até mesmo o que vestia quando estava com a caneta na mão, é possível enxergar as origens do Sleater-Kinney.
Seu livro defende o modo fã de ser como uma busca intelectual. É interessante ver como as pessoas muitas vezes identificam o Sleater-Kinney com o movimento riot grrrl, quando, na verdade, Carrie Brownstein começou como uma fã do hardcore, que basicamente stalkeou Corin Tucker, do Heavens to Betsy, até se fazer notar por ela. Mas o que realmente tornava o Sleater-Kinney diferente do resto era o modo como elas entravam em diálogo sobre o que significava ter passado pela experiência do "riot grrrl", em vez de simplesmente reafirmar seus princípios.
As memórias de Brownstein deixam claro que ela nunca se conformou com aceitar as coisas pelo que elas são na superfície. Ao contrário, ela entende as influências que sofreu como partes de si mesma, o que lhe possibilita enxergar a importância de sua própria banda com nuances analíticas. Brownstein carrega consigo os ingredientes de si mesma, e é exatamente assim que "Hunger Makes Me a Modern Girl" se estrutura.
Noisey: Você narra com muitos detalhes como foi descobrir o punk e o riot grrrl na juventude. Como conseguiu se lembrar de tudo aquilo de maneira tão vívida, tantos anos depois?
Carrie Brownstein: O processo, acho, de escrever o livro foi extrair material dos momentos que pareciam definir a minha jornada em direção à criatividade, e do que se destacava nela. O que me pareceu crucial em termos de me encontrar, descobrir o processo criativo, meio que ser encontrada pela música e pela comunidade. Muito mesmo do Sleater-Kinney fez parte disso, e Corin [Tucker] especialmente.
Fiz um esboço, e sabia que havia certas partes em que queria focar minha atenção. Conversei muito com a Corin, e com a minha irmã, e li anotações antigas de diário, fiz perguntas a amigos para os quais tinha mandado cartas quando estava em turnê. Comecei a estruturar a narrativa, mas nem sempre escrevi seguindo a ordem cronológica. Escrevi em grandes blocos, e depois os coloquei na ordem que me pareceu mais interessante, e que parecia conter mais suspense.
A maneira analítica com que você relembra suas inspirações musicais intelectualiza a experiência de ser fã. Por que você acha que é assim?
Sinto muito forte uma afinidade com quem fui na juventude enquanto fã. Para mim, ser fã é algo que traz em si mesmo uma curiosidade inerente, e acho que a curiosidade é o que permite que sejamos abertos e otimistas, e que deixa entrar em nossas vidas experiências para as quais estaríamos fechados se não fosse por ela. O tempo todo somos confrontados com tantos casos, e com tanta informação, que é quase necessário levantar um muro - quase exige que a gente fique inerte... que fiquemos com medo.
Há alguma coisa na relação entre a atitude do fã e a curiosidade que nos faz continuar seguindo em frente pelo mundo, e entrar no processo de descoberta, e acho que isso serve para equilibrar com as coisas que parecem mais incertas e assustadoras... É algo que me ajuda a conservar o otimismo como um dos ingredientes da minha vida, e me ajuda a viver no presente. Mesmo se você está descobrindo agora uma coisa que é antiga, o processo de permitir que algo novo entre na sua vida, acho eu, é mostra de uma abertura que é importante.
Como se faz para entrar numa cena da qual você é fã sem sentir que você está enchendo a paciência de todo mundo? Você menciona ter lutado com essa questão pessoalmente, quando se mudou para Olympia e começou a se relacionar com bandas como 7 Year Bitch e Heavens to Betsy.
Acho que o elo perdido é saber quem você é. É difícil meio que se integrar e se posicionar dentro de uma comunidade quando você está cheia de inseguranças. Tem uma história muito transformadora mesmo sobre a Elizabeth do 7 Year Bitch literalmente não me reconhecer. Eu queria tanto fazer parte do mundo dela, da banda dela, literalmente queria ser parte da banda dela, e continuei sendo invisível para ela até que me tornei essencialmente outra pessoa. E uma versão muito dramática e específica de transformação, mas acho mesmo que tem muito a ver com se sentir à vontade com quem se é - cercar-se de pessoas que fazem você se sentir inteira, ou ao menos que não façam você se sentir inferior. E estar em um lugar em que você se sinta segura o bastante para correr riscos. E isso pode ser muita coisa.
No meu caso, eu já tinha formado o Sleater-Kinney e estava tocando nos palcos, mas, para outras pessoas, acho que pode ser ter a confiança de se apresentar, não como alguém de fora, mas sim como alguém que pertence àquele lugar. E para isso é preciso ter muita confiança. Isso em parte vem de se cercar de pessoas que passam a sensação de pertencimento.
Foi isso o que a levou a passar da vida nos subúrbios de Seattle para Olympia?
Sim, e isso me ajudou. Essa era uma coisa que a faculdade não podia fazer. Eu fiz faculdade, e mal tinha coragem de falar nas aulas. Era muito tímida e muito nervosa. Precisou mesmo que eu convivesse com uma constelação de esquisitões, de gente bizarra, estranha, até que deixasse de me ver como pertencente à periferia. A periferia foi se alargando até que começou a parecer um centro.
E então isso aconteceu literalmente! Tem aquela parte no livro em que você está no centro do palco em um dos primeiros shows do Sleater-Kinney, e se dá conta de que tinha deixado de ser uma fã e virado uma parte real da cena de lá. Tipo, seus ídolos finalmente te aceitaram. Você acha que experiências como essa deram forma a como você e a banda se relacionam com os fãs?
Acho que, coletivamente, estivemos em ambos os lados dessa equação. Acho também que, como não tivemos uma ascensão meteórica para a fama, em que a pessoa passa reto por esses estágios intermediários, estivemos presentes no processo inteiro, de seus amigos promoverem shows seus, e de dormir no sofá de desconhecidos. No começo, mal havia uma diferenciação entre você e o público. Essa hierarquia foi completamente desmantelada. Então acho que, se você começa dessa maneira, e de uma maneira muito natural vai dando os passos seguintes, fica difícil decidir, tipo "ah, bem, não vamos mais nos comunicar com vocês. Vocês são uma fase que nós transcendemos". Então, nossa popularidade teve uma progressão bastante orgânica.
Ao mesmo tempo, quando conseguimos um destaque maior, e saíamos de ônibus para as turnês, e fazíamos shows maiores, acho que ainda era igualmente importante para nós. É simplesmente a natureza da nossa música. Sentimos uma necessidade muito grande nas pessoas, que acho que nós tentamos reconhecer sempre que podemos. Tenho muita certeza de que, na verdade, música é o que eu quero dar para as pessoas. Não há muita coisa além disso que chegue sequer a ser satisfatória.
Como artista, não acho que exista alguma coisa que você deva aos fãs além da música. Contudo, como um ser humano que tem compaixão, que é sensível e gentil, tento ter consciência do que existe fora da dinâmica fã-banda, que existe apenas nas vozes que nos alcançam pelas redes sociais, ou nas filas depois de um show, e encará-las num nível individual. Não "fã" em termos genéricos, só pessoas mesmo. É nessas horas que faço um esforço para me lembrar do quanto é importante ser percebido. Escrevi muito sobre isso na parte inicial do livro - a sensação mesmo de um contato visual, tipo, sim, eu estou aqui. Já me senti invisível antes, mas estou aqui.
Na primeira formação do Sleater-Kinney, a gente recebia cartas por meio da nossa gravadora, e eu lia essas cartas, mas na época das mídias sociais, e nos nossos shows do No Cities to Love, teve um grupo de fãs que começou a fazer tatuagens dos nossos autógrafos, e esse foi um negócio muito intenso mesmo, porque a gente autografava os braços do pessoal, e eu achava que aquilo seria um pouquinho de tinta temporária na pele, mas aí eles pegavam e faziam uma tatuagem permanente.
E parte de mim pensa tipo, isso é maluquice, gente, vocês têm que maneirar. Você não quer o meu autógrafo... mas outra parte de mim percebe que tipo, esse entusiasmo, essa disposição de fazer uma coisa que é meio tipo que espontânea e frívola e também meio que contraintuitiva, tudo isso faz parte tipo do processo de amar alguma coisa, ou de se sentir parte de alguma coisa. Eu provavelmente teria feito coisas parecidas. Mas, quando você está do outro lado, parece uma coisa bizarra. Fiquei tipo: preciso de uma assinatura mais bonita. Vou deixar minha assinatura parecendo um quadro do Picasso. Vou aprender caligrafia. Mas não tenho tatuagem do autógrafo de ninguém.
Mas, se pudesse, faria?
Não!
De quem você é fãzona no momento?
Tipo, o Kendrick é sensacional, mas também adoro o Young Thug e o Meek Mill.
No Cities to Love, do Sleater-Kinney
Então, você é time Meek Mill ou time Drake?
Eu meio que sou time Drake. Eles brigaram. Tipo, eles eram amigos. Eu prefiro o disco do Drake. Mesmo essa nova dele, "Hotline Bling", adoro essa música. É muito boa mesmo. Acho que o hip-hop é um gênero muito ágil. Adoro, é incrível. Mas acho que provavelmente foi o Kendrick que soltou o melhor disco de hip-hop deste ano. Você gosta do Big Sean? Quando estou no trailer, nas filmagens de Portlandia, só escuto ele. Ah, e o Tame Impala. Adoro aquele disco. E gosto do novo disco do Kurt Vile. Gosto muito da Rihanna. Gosto muito de como com ela é tipo "nem, não quero ficar no mesmo papel de Taylor Swift. Não quero ser modelo para ninguém." Tipo, parabéns, menina! Ninguém tem que ser tudo para os outros. Faça o que lhe der na telha.
É preciso ser muito versátil quando se tem a obrigação de ser um modelo para os outros. Por exemplo, vi a Grace Jones participar de uma leitura na noite passada. Ela chegou duas horas atrasada e só ficou ali de bobeira e autografou livros. Foi um momento diva. Mas fiquei pensando, tipo, sabe, nossa, a gente pede muita coisa mesmo das mulheres que são pop stars. Esperamos que elas sejam pessoas fascinantes, e também que tenham os pés no chão, que sejam sexy, mas também que todo mundo possa gostar delas. Gosto muito de como a Rihanna ficou tipo "não quero que as pessoas gostem de mim. Não façam de mim um modelo. Vou soltar umas músicas e é só." Adoro isso. Ela fala a verdade, e não entra na briga e tal.
Mas, no livro, você chega a reconhecer que sentiu esse mesmo tipo de pressão vinda dos seus fãs. As pessoas idolatram o Sleater-Kinney ao ponto dos outros dizerem que é uma seita. Como você lida?
Acho que é só manter a coisa em perspectiva, suponho. Ficar na moralzinha. Vendo o Miguel falando comigo no vídeo.
Leia no site da Vice: Uma fã com muitos fãs: Carrie Brownstein, do Sleater-Kinney, fala sobre sua autobiografia
