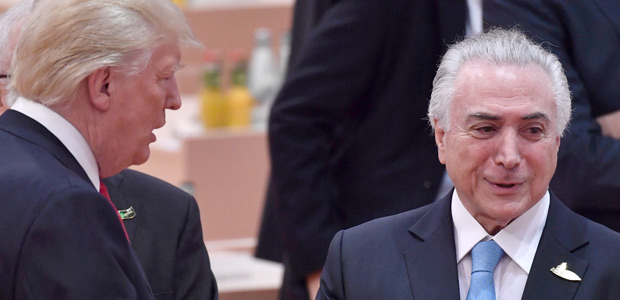Meu palpite é que, quando formos contar a história da luta feminista, antirracista e LGBT, 2017 será lembrado como o ano do backlash –termo gringo para reação a movimentos emancipatórios. Afinal, foi em 2017 que 2016 tomou posse. E o que fizemos quando um monte de homens brancos misóginos dominou de vez o poder para atacar mulheres, negros, gays, imigrantes? Naturalmente, botamos a culpa nas mulheres, negros, gays e imigrantes. Nos EUA, os movimentos ditos identitários foram repetidamente culpados pela eleição de Trump. No Brasil, o backlash ainda está se organizando, mas já se vislumbra, inclusive entre as cabeças mais teoricamente progressistas.
A luta antirracista, por exemplo, tem tomado contornos cada vez mais decisivos no país, sobretudo à medida que algumas de suas conquistas são ameaçadas. E, no entanto, toma força também uma reação supostamente progressista a essa luta, que se apoia, sobretudo, na ideia de um país miscigenado, onde ninguém pode dizer, ao certo, se é preto ou branco. No caso da reação supostamente progressista ao movimento feminista, a premissa é distinta: parte da afirmação (correta, a meu ver) da capacidade de cada um de empatizar com a dor do outro, e portanto aliar-se às suas lutas, para justificar a conclusão (incorreta, a meu ver) de que homens podem e devem criticar os métodos do movimento e traçar limites à sua atuação, sem sequer reconhecer aí um conflito de interesse.
No caso do argumento do Brasil miscigenado como força motriz do backlash aos movimentos anti-racistas, enxergo uma confusão fundamental: não considero que a visão de um país da mistura (forçada ou não), onde cada um pode encontrar, em sua árvore genealógica, negros e negras, seja incompatível com a certeza de que alguns, e apenas alguns, sofrem por serem percebidos como negros e negras hoje. Porque estamos falando, aí, de dois conceitos diferentes: por um lado, olhamos o fato (incontestável) de que a cultura, o sangue e o suor de negros e negras são traços inconfundíveis do país, de sua formação. Por outro, estamos falando da vivência, no presente, do racismo como estrutura violenta que incide sobre algumas pessoas e não outras, ainda que todas tivessem, em tese, algum antepassado negro.
O fato é que na hora de apanhar da polícia, ou ser desprezado na entrevista de emprego, o que conta não é o seu trisavô africano, é como você é percebido por quem está na sua frente. E, se for percebido como branco, talvez a melhor forma de valorizar a memória do seu trisavô africano seja reconhecer que a pessoa que hoje no Brasil se parece mais com ele é quem mais tem a te explicar sobre a violência sistêmica que ele sofreu. E que reconhecer essa diferença, longe de negar a miscigenação como traço constitutivo da nação ou da sua história familiar, é honrá-la, inclusive no que ela carrega de doloroso, e procurar dar aos negros no Brasil possibilidades distintas das que seu trisavô teve. Ou, no mínimo, sair da frente quando eles lutam por isso.
No caso do movimento feminista e do argumento da empatia para que homens deem pitaco sobre seus rumos e ferramentas, vale lembrar que aliado de verdade quer ver mulheres contando suas próprias histórias e traçando seus próprios guias de atuação. Ou, no mínimo, sair da frente quando elas lutam por isso.
Em 2018, 2016 vai querer eleger pupilos e sucessores. O backlash, com certeza, vai crescer. Mas a luta continua.