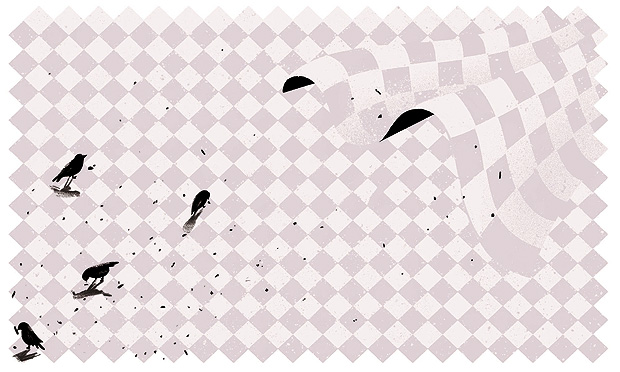PARDAIS
Minha avó tirava a toalha do café da manhã sem deixar que as migalhas de pão e bolo caíssem no chão da cozinha. Saía pela porta de trás, que dava pro quintal e ficava sempre aberta, presa por uma pedra, e batia a toalha no corredor de lajotas que circundava a casa toda, menos na parte da frente, onde havia dois canteiros de margaridas separados por uma escada, que ia da calçada à porta principal. Quando voltava pra cozinha, os pardais desciam e começavam a ciscar. Eram dezenas ou centenas deles - minha avó era a Rainha dos Pardais. Havia ninhos por toda a franja do telhado, nos quatro flancos da casa, entre os caibros de madeira e as telhas vermelhas; palha enrolada à perfeição por passarinhos (eu ficava louco com isso), cheia de ovos e pardaizinhos suicidas. Volta e meia um deles despencava lá do alto. Minha avó pegava o bichinho na mão, beijava sua cabeça, fazia o sinal da cruz e em seguida jogava o cadáver no lixo. Eu tinha aflição desses pardais ainda sem penas, de pele verde e viscosa, com a cabeça grande, desproporcional. Mas adorava os pardais graúdos comendo na lajota, os ninhos suspensos feito chapéus, o jeito da minha avó ir e vir pela casa, cantarolando, sempre disponível, sem derramar uma lágrima, uma gota de suor. Quando ela morreu, escrevi um poema sobre a sua morte. Dizia que ela não tinha morrido: os pardais a tinham levado com casa e tudo pra algum lugar melhor. Era um poema ruim. A prova é que a casa continua lá, habitada por uns conhecidos da família que a compraram alguns meses depois. Às vezes, nas férias da faculdade, eu passava pela rua e, se não tinha ninguém por perto, parava, botava as mãos nas grades e ficava observando. Em parte ao menos o poema tinha razão: os pardais foram viver em outro lugar.
ANTÃO
Era negro o Papai Noel da minha infância. Curiosamente, isso nunca foi motivo de estranhamento pros moleques da nossa cidade, racista como qualquer cidadezinha do interior de São Paulo. Como qualquer capital do Brasil. Pelo contrário, estranhávamos quando outro adulto qualquer, branco ou japonês, vestia a roupa e o chapéu vermelhos e punha uma almofada idiota na barriga. Achávamos aquilo de uma falsidade intolerável, e logo alguém reconhecia e desmascarava o impostor.
Certa manhã, entre o Natal e o Ano-Novo, fui sozinho pro Clube dos Bancários —que ficava no final de uma estrada de terra e onde a classe média de Santo Anastácio passava as tardes nadando e jogando futebol— e vi um velho gordo e negro, de olhos verdes e turvos de catarata, fumando um cachimbo sentado na varanda de uma casa de madeira sem pintura, com manchas de musgo nas paredes, telhado caído, quase escondida atrás dos pés de mamona. Era o Papai Noel. Desci da bicicleta e disse:
-Oi, Papai Noel!
Ele levantou e disse:
-Ô, menino, tudo bem? Entra. Como vai seu pai? Sua mãe tá trabalhando essa semana? Preciso passar lá pra arrancar esse dente —e abriu a boca com a mão pra que eu pudesse ver direito.
Mais tarde descobri que seu nome era Antão.
Viveu ainda muitos anos depois que deixei de acreditar em Papai Noel.